AMIGA: fica esperta!
- Lilis | Linhas Livres

- 15 de mar. de 2020
- 8 min de leitura
Atualizado: 25 de mar. de 2020
A terceira matéria da série de reportagens explica como prevenir e tratar a violência psicológica**
Por Leila Gapy***
Imagens Pâmela Ramos/Arquivo Pessoal
Uma violência generalizada, enraizada na estrutura sociocultural e, por consequência, normalizada por todos. Até por isso a Violência Psicológica é a mais praticada pelos agressores no âmbito doméstico, a mais complicada de ser percebida pela vítima, de ser detectada por familiares, além de ser difícil de ser provada. Potencialmente letal, assim como a violência física, ela tem capacidade abrangente, o que a torna um crime hediondo e social, ou seja, uma questão de saúde pública. A prevenção? Educação e autoconhecimento, que favorecerão para que a vítima se posicione ainda no início do processo de agressão e imponha limites ao agressor.
“O autoconhecimento, que chamo e entendo como autocompreensão, ocorre quando somos apropriadas de nós mesmas. Tem a ver com reconhecer nossos desejos, limites e possibilidades, diante da finitude existencial. Isso possibilita que deixemos de buscar no outro o preenchimento de um vazio, ou seja, é não usar o outro como ‘muleta’. Isso é relevante, porque também possibilita 'diagnosticar' em nossos relacionamentos, o que nos é 'próprio' e o que não é, como por exemplo, 'diagnosticar' os medos e os incômodos vivenciados ao dialogar ou se relacionar sexualmente com nossos parceiros ou parceiras, para reconhecer o que é que o outro faz que não nos pertence e não aceitar menos do que um relacionamento saudável”, filosofa a psicóloga Ariane Nascimento.

As nomenclaturas são muitas: abuso emocional, tortura psicológica, violência emocional. Mas na lei Maria da Penha ela é titulada como Violência Psicológica. No âmbito doméstico e familiar, pode ser desenvolvida por qualquer um, inclusive por mulheres. Porém, o perfil do agressor é majoritariamente masculino, ocupando papel de marido ou companheiro, pai, padrasto ou irmão. Já a vítima, de acordo com a lei de violência doméstica, tem de ser obrigatoriamente mulher. Mas na legislação brasileira há acolhimento da violência psicológica contra crianças e idosos também.
Os números são imprecisos, mas apontam uma direção. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), pertencente ao Ministério da Saúde, cerca de 50 mil mulheres registram casos de violência psicológica ao ano. Em 2017, último ano com números disponíveis, foram 78.052 casos registrados e 81% deles a partir de vítimas mulheres - números crescentes a cada ano a partir de 2006, quando é disponibilizada a pesquisa. No entanto, estudos do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina apontam, desde 2007, que toda violência contra a mulher é psicológica, mas mais de 50% dos casos registrados, como das violências físicas, não cita a psicológica no Boletim de Ocorrência, o que impede o alcance do número real.
Segundo estudos do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) “as situações de violência, em especial a psicológica, podem causar danos ao desenvolvimento psicológico e a autoestima trazendo assim, consequências e prejuízos às vítimas. [...] A violência é um fenômeno complexo que pode ser compreendida a partir de diferentes perspectivas, pois além de afetar a família e a sociedade como um todo representa um grave problema de saúde pública. [...] ‘Famílias onde há violência entre seus membros têm alta probabilidade de estarem socializando os filhos para a violência’ (citando Vera Maria Candau)”, afirma o texto orientado pela professora Sirlei Favero Cetolin, desenvolvido em 2015.
“Mas é preciso antes de tudo observar a diferença entre Violência Psicológica e Comportamento Tóxico. Obviamente que toda situação de violência é tóxica, mas nem todo comportamento tóxico incute violência. O Comportamento Tóxico é localizado, desenvolvido por pessoas mal resolvidas com elas mesmas, pessoas que têm dificuldades de lidar com os próprios sentimentos, assim, ferem os outros sem perceber, sem consciência. Já o autor da agressão psicológica tem consciência dos seus atos e às vezes, sentem satisfação em ferir o outro, ele gosta dessa situação de poder e controle do outro” observa a psicóloga Ariane Nascimento.
O desempenho de ambos é sutil aos olhos nus e um (tóxico) pode evoluir para o outro (violência), embora não necessariamente. Enquanto o comportamento tóxico possivelmente está associado ao comportamento passivo-agressivo - com desempenho em violência oculta, como silenciar, faltar ou se atrasar em compromissos importantes para vítima, ou ainda deixar de cumprir combinados -, a violência psicológica deriva da dependência emocional (de quem a sofre), e em sua constância, dia após dia, causa a destruição lenta da identidade da vítima.
A vítima
O poder do agressor está exatamente no tempo, na paciência, na progressão de anulação da fala e das ações da pessoa maltratada, na desvalorização integral da dor reclamada e na culpa gerada pela ação planejada dele em distorcer a realidade. Situação que resulta na vítima questionar o próprio valor, as próprias dores e, assim, crer que exagera e/ou tem culpa. Favorecendo para que ela deixe de existir principalmente socialmente. São exemplos de xingamentos públicos ou particulares, exposição da intimidade da vítima, inversão de valores a favor do agressor em discussões.
De acordo com a psicóloga, é preciso levar em conta componentes vulnerabilizantes em que a vítima se enquadra, não só a dependência emocional em relação ao parceiro, a chamada vulnerabilidade individual, como também, aspecto da estrutura social, cultura que vende um ideal de mulher dentro de um estereótipo de donzela e mãe santificada, que ao mesmo tempo que precisa ser protegida, tudo perdoa, isso, na maioria das vezes impõe poder de decisão ao outro, geralmente o homem, permitindo que eles ‘errem’, desde coisas simples, como não saber cozinhar a própria comida ou saber lavar as louças, até questões ilegais como xingar ou bater na companheira, principalmente quando se está numa relação heterossexual.

“Apesar da violência ser ‘democrática’, é preciso considerar além das questões individuais, questões sociais e programáticas como componentes vulnerabilizantes. O componente social, diz respeito aos aspectos de como se dá o acesso à informação, bem como o acesso aos serviços de saúde e educação, além dos aspectos de gênero, étnicos-raciais, etc. O componente programático diz sobre políticas públicas, se refere a aspectos como financiamentos previstos para programas preventivos, à presença ou não de planejamento de ações, etc. Isso tudo colabora para a análise das relações que se apresentam com Violência Psicológica”, diz Ariane.
Neste sentido, a profissional propõe um olhar delicado para situações ocultas, porém existentes no ciclo da violência. Como por exemplos ela cita:
1. A dificuldade da vítima em se afastar por definitivo do agressor ou do ambiente, alternando posturas entre afastamento e retorno. Para a psicóloga, esse movimento é natural e diz sobre o processo de amadurecimento dessa vítima. “Precisamos abandonar bordões como ‘mulher de sem-vergonha’ ou ‘que gosta de apanhar’, inclusive partindo de mulheres em ambientes sociais e em tom de brincadeira. Repetir esse discurso é colaborar com uma ideia equivocada, uma estrutura social que não acolhe e é hipócrita, pois não quer olhar para o problema de ordem social. Ninguém gosta de apanhar e a vítima precisa amadurecer, se apropriar de si para conseguir se afastar e isso leva tempo”, explica.
2. A demonização de mulheres que se recusam a entrar ou ficar no ciclo social imposto pela estrutura sociocultural. Para a profissional, o entendimento de liberdade e acolhimento da diversidade não está somente associada à comunidade LGBT+, mas à compreensão de que cada um é um e não é não. “Romantizamos a gestação, a maternidade, o casamento. Então, quando uma mulher expõe a realidade crua, a dificuldade da gravidez ou o não querer ter filhos, que pode envolver o tema do aborto, os problemas amargos da maternidade e/ou sai de um casamento (tido até como exemplo), ela é vista como louca ou má, como já disseram numa música. É como se fossem desobedientes ao sistema. Precisamos romper com isso, cada um sabe e tem de saber seus próprios limites”, propõe.
3. A romantização da culpabilidade da vítima e o papel do Estado. Para a psicóloga, o sentimento de culpa tem uma função na análise clínica, mas falando de culpa de modo comum, “existe um movimento frequente de culpar a vítima do que lhe foi causado e isso é um cliché cômodo, que oriunda de um Estado ineficiente, porque responsabilizam as pessoas que estão nestes relacionamentos para não resolver um problema que, como já dissemos aqui, é estrutural. É preciso focar em políticas públicas, algumas já existentes, mas sem fôlego para continuidade e expansão, devido ao sucateamento do SUS e da Educação, principalmente políticas públicas direcionadas às mulheres negras e transexuais, que lideram um triste ranking das vítimas de violência”, aponta.
4. A negligência social, causada pela cultura, junto aos cuidados com o agressor. Segundo a psicóloga, é preciso repensar a masculinidade contemporânea. “Existe uma congruência na educação que impede que os meninos saibam que é natural chorar, sofrer e falar sobre os sentimentos, e a sociedade que aprova esse mesmo menino-homem em afogar as mágoas no uso de álcool e outras drogas, que são componentes presentes em boa parte dos quadros de violência. E, como assim não se pode chorar ou sentir? Somos todos humanos. E o que isso tem a ver com a violência? Isso desemboca na não-aceitação do rompimento. Precisamos rever isso para ontem”, avisa.
Prevenção e tratamentos possíveis
Além da necessidade de garantir a continuidade e ampliar políticas públicas direcionadas às mulheres, não só elas, vítimas de violência, como para a comunidade em geral, atividades de promoção à saúde e de prevenção dos casos de violência priorizam ou deviam priorizar a educação, por meio de rodas de conversa, principalmente no ensino fundamental.
"Um exemplo é o diálogo com as crianças de que as meninas não precisam dos meninos para se sentirem bem consigo mesmas ou até mesmo para se cuidarem. É preciso dizer às crianças que homens também choram e sobre a necessidade de respeito dos seus próprios corpos e dos corpos dos outros, como a simples fala de não fazer com o outro o que não quer que façam com você, ou dando exemplos (verbais) de como é se sentir ameaçado ou machucado, favorecerá o desenvolvimento de empatia e de uma Inteligência Emocional", ensina Ariane.
Quanto aos tratamentos, após a violência consumada, a profissional retorna à conversa. Segundo ela, propor rodas de conversa, por exemplo, é uma forma de dividir a dor e, por consequência, aliviá-las. “Ambientes seguros e de escuta precisam ser ampliados, seja por uma ‘simples’ roda de conversa, como por meio de oficinas das mais diversas criações. Mas que tenham como fio condutor essa troca, esse ouvir o outro. Obviamente que é preciso amparo profissional, mas a empatia não tem contraindicação, não é mesmo?”, finaliza (LL).
__
**Esta é a TERCEIRA matéria da SÉRIE DE REPORTAGENS - FEMINISMO
- 1ª matéria: No olho do furacão! (Por Nicole Bonentti);
- 2ª matéria: A criminosa violência psicológica! (Por Leila Gapy);
- 4ª matéria: Invisível, mas nem tanto! (Por Pâmela Ramos);
- 5ª matéria: Uma resposta chamada Feminismo! (Por Isabela Dantas);
- 6ª matéria: Elas por todas nós! (Por Isabel Rosado).
***

Leila Gapy
é jornalista por formação, encantadora de memórias por vocação e professora, sua nova paixão. Idealizadora deste blogue, é especialista em Jornalismo Literário e mestre em Comunicação e Cultura. Pesquisa texto artístico seriado e ama ler histórias reais. Tem 38 anos, é casada e tem uma filha, Catarina, sua inspiração. Foto: San Paiva | Fotopoesia
Leila também escreveu:
*Curta nossa página e fique sabendo!
**Conheça os demais autores aqui!


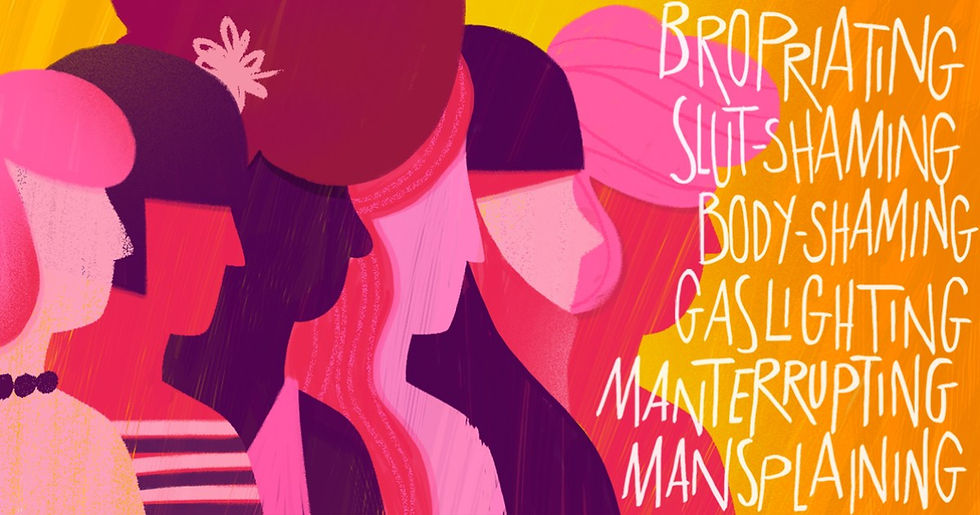
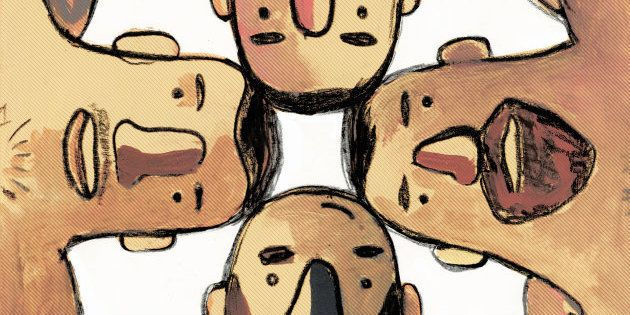
Comments